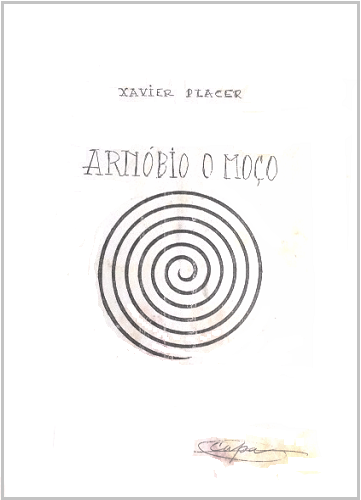Xavier Placer
12 ANA LÍDIA adorava o Rio.
Oportunidade também de ligações telefônicas quase diárias para La Coruña, conversas com a mãe e os irmãos, com a cunhada. Enquanto não se relacionara com os vizinhos, espairecia sozinha curioseando novidades nas vitrinas das galerias de Copacabana, ia à manicure, esquecia por vezes a hora do cardiologista.
Estreitara a amizade entre ela e Madame Jenny, vinham ambas para o Centro certas tardes. Assistiam ao filme de sucesso no momento. Lanchavam na Brasileira e uma e outra tinham ainda, invariavelmente, à última hora, de ir a uma loja apanhar qualquer encomenda. O tempo não dava para nada, chegavam até à Galeria Ébner, na Avenida Rio Branco.
Arno já se encontrava ali ou aparecia em seguida. Interessava-o naquela Casa o conhecimento de pintores, escultores, críticos de arte, algum escritor. Ficava calado ouvindo as conversas entre os renomados sobre Impressionismo, Cubismo, a cor inexistente, arte figurativa e não-figurativa, perspectiva aérea, o ponto áureo.
Às vezes nem voltava com a mãe e Madame Jenny, ficava horas no ambiente artístico, divertia-se. Havia um desabusado de boina à banda e laço preto. Proclamava que "quadro é mercadoria". Fabricava naturezas mortas – caçarolas de cobre vibrante sobre fundo negro-café – que se vendiam às dúzias. Chamavam-no "o pintor burguês"; ele ria e enriquecia. Outro, que descambara para a fotografia, questionava agora o valor da pintura e acendia enredadas discussões afirmando que a perspectiva era uma ilusão.
Jão-Jaques: Você não diz nada, Arno? Ah, mineirinho ladino!
– Faço um curso teórico de artes plásticas. Aprendo com os mestres.
– Ótimo. Só não quero que um dia vá giletear minhas telas numa expô.
Divertia-o a incultura satisfeita de alguns, Um que adjetivava a pintura abstrata, subjetiva, de subjuntiva; aquele que defendia fanaticamente a arte engajada (falava enganjada); o próprio Jão-Jaques gloriava-se de não saber desenhar como uma virtude, quase um talento; Natanry, aluna promissora de Madame Jenny, porém acendendo cigarro atrás de cigarro mais conversava do que trabalhava, amuando-se quando a mestra o advertia.
O Sr. Ébner, que simpatizava com ele, uma e outra vez convidava-o para um drinque no bar ao lado e insistia que experimentasse pintar. Ele? Não levava o menor jeito pra pincéis.
– No entanto gosto de ver seu interesse pelos meus artistas. Uma coisa observo, mon jeune philosophe, não os julgue pelas idéias.
– Alguns como são primários, Sr. Ébner.
– Mas destros no pincel. Pensam com as mãos.
Empresário lido na especialidade, admirador de Ruskin, o Sr. Ébner emprestou-lhe obras do inglês. Os conceitos do autor sobre a arte, o trabalho, exaltando o amor à Natureza e pregando a necessidade de reformas sociais, entusiasmaram Arno. Tornou-se um fervoroso e decidido ruskiniano.
Nem ele nem a irmã queriam agora subir mais à Santa Rita com a mãe. Quedavam com Mãe Jovelina na Lagoa.
Blusas brancas, saias encarnadas, no peito os escudos bordados de São Pedro Nolasco, Letícia e Miriam semi-internas nas Mercedárias, eram levadas e trazidas pelo chofer do Sr. Ébner. A menos que as Irmãs não telefonassem dizendo que queriam ambas dormir aquela noite no colégio.
Arno cursando o científico, aperfeiçoava-se na Cultura Inglesa. O mestre, um estressado de aula em cima de aula, fazia-o bocejar. Mal terminavam as sonolentas conversations dava graças a Deus, saía pra namorar com uma colega no Passeio Público. Ou a buquinar pelos sebos, correr feiras de livros. Quando simplesmente não flanava pelas ruas do Centro ou dos bairros, de ônibus, a pé, olhando, vendo, sentado num banco de praça a observar.
Certa vez sentou-se na Praça Arcoverde.
Viu ali uma ruína embruxada num longo manto plástico, chapéu de plumas esgarçadas. Desloucava-se em corridinhas circulares que enfumavam o andrajo feito asas; estacava, discutindo sozinha, logo crescia em movimentos bailarins. Num daqueles giros plantou-se incendiosa diante do espectador. E Arno, reconhecendo nela a cavaleira de sua infância, estremeceu. Dona Délia! Dona Délia! Partiu depressa, ouvindo atrás de si uma crise de gritos agoniados.
Porém nem tudo eram fúrias totais no belo Rio.
Aquela gordinha do lado da janela – acontecera – que o empurrava a protestar gratuitamente a coxa dele pressionando-a, não consentia aquele abuso! quando o ônibus freia levando todos de cambulhada, e ele rápido a ampara do choque, e de repente, numa como se diz reversão de expectativas, amiga, o convida para ir contemplar com ela a paisagem desde sua kitchenette...
Cada dia mais se integrava no cotidiano da terra carioca.
No fundo, vislumbrava os aspetos desnaturados da cidade grande – mas isto não chegava como ocorreria depois a perturbar o seu deslumbramento. Inteiro, o jovem contentava-se em existir cidadão.
Aquela onda nas calçadas largas de pedras portuguesas; esbarro num desconhecido, perdão! o trapeiro de saco nas costas; o moço executivo furando caminho com a pasta; acima da média humanidade de pedestres, o homem-sanduíche do alto das andas apelando para consumos conspícuos: aquela bebida, a pausa que refresca! vá ao teatro!, ambulantes correndo de fiscais; pivetes; manchetes; neons pisca-piscando; uma nova gíria ouvida ao acaso; cheiro errante de gasolina, buzinada! nordestinos; turistas; erradios; este esmagamento na massa urbana fazia dele participante deliciado da cidade dita maravilhosa.
Era um amante do verde entranhado nele na infância de província. O Rio, a metrópole, além do verde invasor da vegetação, ofereciam-lhe água. Parava às portas de discolândias. Escutava jazz e mpb. Súbito a lembrança da presença do mar o alegrava.
Pag
14/70
Viver no Rio